A mitologia nórdica, também chamada de mitologia germânica, mitologia viking ou mitologia escandinava refere-se a uma religião pré-cristã, crenças e lendas dos povos escandinavos, incluindo aqueles que se estabeleceram na Islândia, onde a maioria das fontes escritas para a mitologia nórdica foram construídas. Esta é a versão mais bem conhecida da mitologia comum germânica antiga, que inclui também relações próximas com a mitologia anglo-saxónica. Por sua vez, a mitologia germânica evoluiu a partir da antiga mitologia indo-europeia.
A mitologia nórdica, dos povos do norte da Alemanha e da Escandinávia, centra-se em duas linhagens de deuses que surgiram da fusão cultural dos invasores de carácter guerreiro com as tribos autóctones, essencialmente ligadas à terra pela agricultura, cerca do ano 2000 a. C.
Estas linhagens eram a dos Aesir e a dos Vanir. Deve-se, no entanto, chamar a atenção para o facto de nem os Vanir nem os Aesir terem atributos exclusivamente ligados a cada uma das características dos povos que os originaram, ou seja, nem os Vanir estavam somente vinculados à terra nem os Aesir somente à guerra.
É curioso o facto de os deuses da mitologia germânica, apesar de regerem o mundo dos homens, estarem por sua vez sujeitos a um destino, elemento central e mais importante de toda a concepção mitológica nórdica, que não podem de modo algum mudar, como se pode verificar na história de Odin.
Eram sobretudo as forças na natureza, objecto da veneração mais profunda, que se atribuíam aos deuses, assim como tudo o que se relacionasse com a guerra.
No entanto, os mitos que chegaram até hoje demonstram ter sofrido uma influência profunda dos romanos e gregos, fino-europeus, eslavos, célticos, e até mesmo da doutrina cristã quando esta se difundiu nestas regiões a partir de do ano 1000.
Mesmo assim, verifica-se que são raros os deuses que possuem características somente boas ou más; as suas histórias e os seus atributos são variados, muitas vezes vagos e indefinidos.
O mundo mitológico encarnava as forças de ordem e desordem, o Bem e o Mal, em luta constante.
Foi através de compilações que datam da Idade Média, como os Edda, que os mitos se transmitiram ao longo dos tempos. O nome de Edda deve-se provavelmente a uma cidade islandesa onde se encontravam os poetas e eruditos. O primeiro dos Edda é em verso e o segundo, elaborado por Snorre Sturlsson, é em prosa.
Há outras fontes, como os relatos de Ibn Fadlan, o historiador latino Tácito ou o bizantino Constantino Porfirogeneta, que no entanto devem ser estudadas tendo em conta a mentalidade dos povos de origem de cada um dos observadores. As runas mágicas ítalo-celtas (que curavam, destruíam, prediziam o futuro e maldiziam), nascidas no século III d. C., as sagas islandesas e os poemas dos escaldos são testemunhos importantes, apesar de muitas vezes difíceis de interpretar. Os escaldos eram os poetas que compunham poemas e canções em honra dos heróis que morriam em combate e que contavam as aventuras dos deuses, viajando pelas cidades, palácios e aldeias.
As gravuras rupestres de cerca de 1500 a. C. que se encontram em rochas na margem sul do mar Báltico e na Escandinávia indicam um culto solar que se centra num deus principal, Týr (Thor), munido de um machado, que serviria sobretudo para benzer e que mais tarde se transformaria no martelo. Aparece também aquele que será o deus Odin, um gigante com uma lança, ligado à água. Esta era um elemento extremamente importante, como se pode deduzir dos sacrifícios feitos por afogamento para obter augúrios em sítios chamados keldur.
Havia também o culto à deusa da fertilidade, Terra-Mãe, estando as rochas cobertas de figuras simbólicas do sexo feminino e masculino entre as quais se destaca o que viria a ser Freyr.
O Landnámabók ou "Livro da Colonização" da Islândia é um dos testemunhos da importância do culto das forças da natureza, mostrando como logo os primeiros seres mitológicos se identificaram com elas. É o caso dos gigantes, que representavam o Sol e são a origem dos deuses, e dos anões, que fugiam da luz e suportavam a Terra. Estes últimos estavam ligados à Terra-Mãe e à morte (como se vê por alguns dos seus nomes, Nýi ou "Lua Nova", símbolo da morte, ou Nár, "cadáver") sendo guardiães do Além. Gigantes e anões eram seres mágicos de grande habilidade manual, que possuíam o saber mais importante e secreto e guardavam os segredos das runas e da poesia. Estas características passariam depois para Odin.
A guerra é o tema que faz parte da vida quotidiana dos homens e consequentemente dos deuses na época viking (cerca de 800 a 1150 d. C.), sendo o objectivo final das suas acções e das suas vidas pois é exaltante das qualidades de bravura e nobreza. Vê-se neste facto a reflexão das qualidades vitais para a sobrevivência que povos guerreiros invasores, acima mencionados, necessitavam. No entanto, antes desta fase há aquela em que a fertilidade e a fecundidade eram vitais, sendo o rei um semideus, mais ou menos mágico, que devia ser menos combativo e vitorioso (sigrsaell) que propiciador de estações prósperas (ársaell) e de paz (fridsaell). Se tinha o infortúnio de no seu reinado não haver boas condições de sobrevivência era chacinado. Os deuses que reflectem esta preocupação são Thor, Odin, a Terra-Mãe Jörd ou Fjörgyn ("o que favorece a vida").
O mito da passagem do caos à ordem inicia-se com a saída do universo do Vazio Aberto, Ginnungagap; depois Muspellheim (terra do fogo, a sul) e o Nifleheim (terra do nevoeiro e do frio, a norte) lutam entre si e geram Ymir, que por sua vez dá origem aos gigantes. A vaca Audumla lambe uma pedra e cria os antepassados da geração de Odin, que matam Ymir, e constrói o mundo a partir das partes do seu corpo pesando-o e dividindo-o entre os deuses (Asgard), os Homens (Midgard) e os gigantes (Utgard). Depois criam-se os Homens, os palácios dos deuses, o Sol (feminino), a Lua (masculino) e as estrelas, a morada dos mortos (Helheim, para os que não morriam em combate; Valhalla, para os que morriam a combater) e todo este cosmos é unificado e ordenado pela Yggdrasil. Todos os habitantes deste universo se sabiam predestinados à destruição no dia de Ragnarok provocada pelos deuses, que faltariam à sua palavra. Seria no entanto o puro Balder, morto antes do perjúrio, que regeneraria o mundo.
Pode verificar-se através dos mitos que os homens que criaram deuses para personificarem aspectos individuais e culturais do mundo nórdico davam tanta importância à magia e à poesia como à acção combativa e às leis.
A atribuição dos nomes dos dias da semana foi muito influenciada pelos deuses; assim se justifica que em Inglaterra a quarta-feira seja chamada de Wednesday, ou dia de Wotan (Odin), e quinta-feira seja chamada de Thursday, ou dia de Thor, e na Alemanha de Donnerstag (ou Dienstag), dia de Donar (outro nome do deus Thor). Também na Alemanha a sexta-feira é o Dia de Freyr (Freitag).
No século XIX transformou-se a Canção do Nibelungo em poema nacional da Alemanha, e depois em símbolo político.
Deve-se ao compositor alemão Richard Wagner a grande divulgação e reinterpretação dos mitos nórdicos segundo a visão romântica do século XIX na ópera de 1863 Der Ring des Nibelungen (O Anel dos Nibelungos), assim como a peça de F. de la Motte- Fouqué, Der Held des Nordens (1808-1810), que também lhes deu uma nova leitura. R. Wagner baseou algumas cenas nesta última peça e liga o destino de Siegfried ao Crepúsculo dos Deuses ou o dia de Ragnarok.
O tema foi tratado por Ernst Raupach em 1834 no Tesouro do Nibelungo, onde Brunilde odeia Cremilde por esta ser mais poderosa e mais bela; por Hebel, na Trilogia dos Nibelungos (1862), onde Siegfried troca declaradamente Brunilde por Cremilde; e por Schneider em A Capa Mágica de 1951, onde Brunilde se fixa nas suas raízes pagãs e borgonhesas que devem ser exterminadas pelos Hunos e Siegfried adere ao cristianismo.
Estas linhagens eram a dos Aesir e a dos Vanir. Deve-se, no entanto, chamar a atenção para o facto de nem os Vanir nem os Aesir terem atributos exclusivamente ligados a cada uma das características dos povos que os originaram, ou seja, nem os Vanir estavam somente vinculados à terra nem os Aesir somente à guerra.
É curioso o facto de os deuses da mitologia germânica, apesar de regerem o mundo dos homens, estarem por sua vez sujeitos a um destino, elemento central e mais importante de toda a concepção mitológica nórdica, que não podem de modo algum mudar, como se pode verificar na história de Odin.
Eram sobretudo as forças na natureza, objecto da veneração mais profunda, que se atribuíam aos deuses, assim como tudo o que se relacionasse com a guerra.
No entanto, os mitos que chegaram até hoje demonstram ter sofrido uma influência profunda dos romanos e gregos, fino-europeus, eslavos, célticos, e até mesmo da doutrina cristã quando esta se difundiu nestas regiões a partir de do ano 1000.
Mesmo assim, verifica-se que são raros os deuses que possuem características somente boas ou más; as suas histórias e os seus atributos são variados, muitas vezes vagos e indefinidos.
O mundo mitológico encarnava as forças de ordem e desordem, o Bem e o Mal, em luta constante.
Foi através de compilações que datam da Idade Média, como os Edda, que os mitos se transmitiram ao longo dos tempos. O nome de Edda deve-se provavelmente a uma cidade islandesa onde se encontravam os poetas e eruditos. O primeiro dos Edda é em verso e o segundo, elaborado por Snorre Sturlsson, é em prosa.
Há outras fontes, como os relatos de Ibn Fadlan, o historiador latino Tácito ou o bizantino Constantino Porfirogeneta, que no entanto devem ser estudadas tendo em conta a mentalidade dos povos de origem de cada um dos observadores. As runas mágicas ítalo-celtas (que curavam, destruíam, prediziam o futuro e maldiziam), nascidas no século III d. C., as sagas islandesas e os poemas dos escaldos são testemunhos importantes, apesar de muitas vezes difíceis de interpretar. Os escaldos eram os poetas que compunham poemas e canções em honra dos heróis que morriam em combate e que contavam as aventuras dos deuses, viajando pelas cidades, palácios e aldeias.
As gravuras rupestres de cerca de 1500 a. C. que se encontram em rochas na margem sul do mar Báltico e na Escandinávia indicam um culto solar que se centra num deus principal, Týr (Thor), munido de um machado, que serviria sobretudo para benzer e que mais tarde se transformaria no martelo. Aparece também aquele que será o deus Odin, um gigante com uma lança, ligado à água. Esta era um elemento extremamente importante, como se pode deduzir dos sacrifícios feitos por afogamento para obter augúrios em sítios chamados keldur.
Havia também o culto à deusa da fertilidade, Terra-Mãe, estando as rochas cobertas de figuras simbólicas do sexo feminino e masculino entre as quais se destaca o que viria a ser Freyr.
O Landnámabók ou "Livro da Colonização" da Islândia é um dos testemunhos da importância do culto das forças da natureza, mostrando como logo os primeiros seres mitológicos se identificaram com elas. É o caso dos gigantes, que representavam o Sol e são a origem dos deuses, e dos anões, que fugiam da luz e suportavam a Terra. Estes últimos estavam ligados à Terra-Mãe e à morte (como se vê por alguns dos seus nomes, Nýi ou "Lua Nova", símbolo da morte, ou Nár, "cadáver") sendo guardiães do Além. Gigantes e anões eram seres mágicos de grande habilidade manual, que possuíam o saber mais importante e secreto e guardavam os segredos das runas e da poesia. Estas características passariam depois para Odin.
A guerra é o tema que faz parte da vida quotidiana dos homens e consequentemente dos deuses na época viking (cerca de 800 a 1150 d. C.), sendo o objectivo final das suas acções e das suas vidas pois é exaltante das qualidades de bravura e nobreza. Vê-se neste facto a reflexão das qualidades vitais para a sobrevivência que povos guerreiros invasores, acima mencionados, necessitavam. No entanto, antes desta fase há aquela em que a fertilidade e a fecundidade eram vitais, sendo o rei um semideus, mais ou menos mágico, que devia ser menos combativo e vitorioso (sigrsaell) que propiciador de estações prósperas (ársaell) e de paz (fridsaell). Se tinha o infortúnio de no seu reinado não haver boas condições de sobrevivência era chacinado. Os deuses que reflectem esta preocupação são Thor, Odin, a Terra-Mãe Jörd ou Fjörgyn ("o que favorece a vida").
O mito da passagem do caos à ordem inicia-se com a saída do universo do Vazio Aberto, Ginnungagap; depois Muspellheim (terra do fogo, a sul) e o Nifleheim (terra do nevoeiro e do frio, a norte) lutam entre si e geram Ymir, que por sua vez dá origem aos gigantes. A vaca Audumla lambe uma pedra e cria os antepassados da geração de Odin, que matam Ymir, e constrói o mundo a partir das partes do seu corpo pesando-o e dividindo-o entre os deuses (Asgard), os Homens (Midgard) e os gigantes (Utgard). Depois criam-se os Homens, os palácios dos deuses, o Sol (feminino), a Lua (masculino) e as estrelas, a morada dos mortos (Helheim, para os que não morriam em combate; Valhalla, para os que morriam a combater) e todo este cosmos é unificado e ordenado pela Yggdrasil. Todos os habitantes deste universo se sabiam predestinados à destruição no dia de Ragnarok provocada pelos deuses, que faltariam à sua palavra. Seria no entanto o puro Balder, morto antes do perjúrio, que regeneraria o mundo.
Pode verificar-se através dos mitos que os homens que criaram deuses para personificarem aspectos individuais e culturais do mundo nórdico davam tanta importância à magia e à poesia como à acção combativa e às leis.
A atribuição dos nomes dos dias da semana foi muito influenciada pelos deuses; assim se justifica que em Inglaterra a quarta-feira seja chamada de Wednesday, ou dia de Wotan (Odin), e quinta-feira seja chamada de Thursday, ou dia de Thor, e na Alemanha de Donnerstag (ou Dienstag), dia de Donar (outro nome do deus Thor). Também na Alemanha a sexta-feira é o Dia de Freyr (Freitag).
No século XIX transformou-se a Canção do Nibelungo em poema nacional da Alemanha, e depois em símbolo político.
Deve-se ao compositor alemão Richard Wagner a grande divulgação e reinterpretação dos mitos nórdicos segundo a visão romântica do século XIX na ópera de 1863 Der Ring des Nibelungen (O Anel dos Nibelungos), assim como a peça de F. de la Motte- Fouqué, Der Held des Nordens (1808-1810), que também lhes deu uma nova leitura. R. Wagner baseou algumas cenas nesta última peça e liga o destino de Siegfried ao Crepúsculo dos Deuses ou o dia de Ragnarok.
O tema foi tratado por Ernst Raupach em 1834 no Tesouro do Nibelungo, onde Brunilde odeia Cremilde por esta ser mais poderosa e mais bela; por Hebel, na Trilogia dos Nibelungos (1862), onde Siegfried troca declaradamente Brunilde por Cremilde; e por Schneider em A Capa Mágica de 1951, onde Brunilde se fixa nas suas raízes pagãs e borgonhesas que devem ser exterminadas pelos Hunos e Siegfried adere ao cristianismo.
Os deuses germânicos deixaram traços no vocabulário moderno. Um exemplo desta influência é alguns dos nomes dos dias da semana. A influência deu-se após os nomes dos dias da semana serem desenvolvidos e espalhados pela língua dominante antiga, o latim, que definia os dias como Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Os nomes de terça-feira a sexta-feira foram substituídos completamente pelos equivalentes germânicos dos deuses romanos. Em inglês, Saturno não foi substituído, enquanto sábado foi renomeado após a definição do sabbath em alemão, e é chamado "dia da lavagem" na Escandinávia. Mais recentemente, surgiram tentativas na Europa e nos Estados Unidos de reviver a velha religião pagã sob o nome de Ásatrú ou o Heathenry. Na Islândia, o Ásatrú foi reconhecida pelo estado como uma religião oficial em 1973, que legalizou suas cerimónias da união, nomenclatura dada às crianças e outros tipos de cerimoniais. É também reconhecida como uma religião oficial e legal na Dinamarca e na Noruega, apesar de recente.






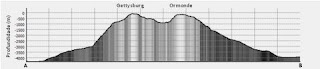







































.jpg)




